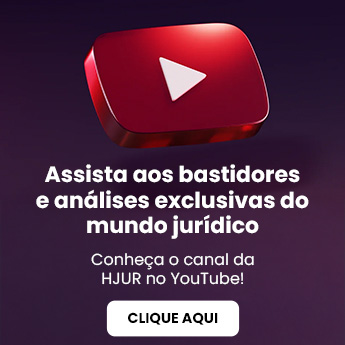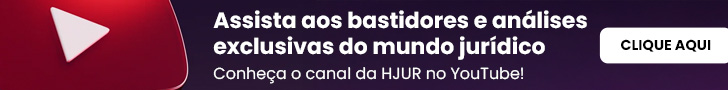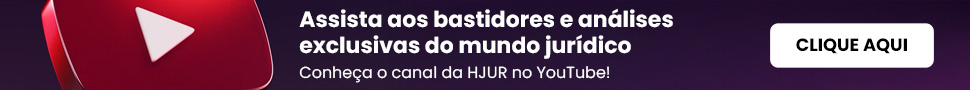A Autocracia no Serviço Público: quando denunciar irregularidades custa o cargo ou a carreira de alguém
Claudio Miguel Rolim de Quadro
Procurador Público Municipal — Procuradoria Geral do Município de Brusque/SC
[email protected] | [email protected]
Procurador Público do Município de Brusque; Advogado; Graduado em Direito; Ex-professor universitário; Especialista em Administração Pública e Gerência de Cidades.
Setembro de 2025
A Autocracia No Serviço Público: Quando Denunciar Irregularidades Custa O Cargo Ou A Carreira De Alguém.
Por CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO – Procurador Público Municipal — Procuradoria Geral do Município de Brusque/SC.
Resumo
O artigo analisa a ausência de mecanismos de proteção a servidores públicos — comissionados ou efetivos — que denunciam irregularidades administrativas. Argumenta-se que tais agentes, ao cumprirem o dever de lealdade ao interesse público, ficam vulneráveis a perseguições, exonerações, congelamento funcional, sobrecarga desproporcional de tarefas ou desqualificação pública. Examina-se a falha jurídica no ordenamento brasileiro em comparação a práticas estrangeiras de proteção ao denunciante (whistleblower), defendendo a necessidade de evolução legislativa e constitucional para assegurar que a confiança do servidor seja com a sociedade e não apenas com quem o nomeou. Conclui-se que proteger o denunciante é resguardar a moralidade administrativa e a própria República.
Palavras-chave: Serviço público. Assédio institucional. Cargos em comissão. Servidores efetivos. Whistleblower.
Abstract
This article examines the lack of protection mechanisms for Brazilian public servants — both appointed and career officials — who report administrative irregularities. It argues that such agents, when fulfilling their duty of loyalty to the public interest, are left vulnerable to retaliation, including dismissals, functional freezing, disproportionate workloads, or public disqualification. The paper highlights the legal gap in the Brazilian system compared to foreign whistleblower protection frameworks, advocating for legislative and constitutional reform to ensure that public servants’ loyalty lies with society rather than solely with their appointing authority. It concludes that protecting whistleblowers means safeguarding administrative morality and the Republic itself.
Keywords: Public service. Institutional harassment. Appointed positions. Career servants. Whistleblower.
Introdução
A Administração Pública brasileira, em todos os entes da federação, ainda convive com práticas que revelam um viés autocrático no interior de seus órgãos e entidades.
Este problema é especialmente sensível quando se trata dos cargos de confiança e também dos servidores efetivos que, ao denunciarem irregularidades administrativas, acabam submetidos a diferentes formas de retaliação.
Em vários municípios brasileiros, periodicamente, a população escolhe seus representantes para administrar o município, assim como os seus representantes na Câmara Municipal, e essas escolhas ocorrem em face da análise que cada eleitor faz sobre as competências que imagina possuir cada um dos escolhidos, mas isso não garante que suas escolhas estejam corretas tendo em vista que em inúmeras vezes os escolhidos escondem suas reais intenções em dilapidar o patrimônio público.
E sendo assim, o parlamento municipal deve cumprir fielmente com a sua responsabilidade que é razão de sua existência, que nada mais é que o dever de fiscalizar todos os atos administrativos do Poder Executivo, como também se autofiscalizar, pois os atos administrativos do Poder Legislativo também requer responsabilidade fiscalizatória de seus integrantes.
Ademais, também podem existir atos de corrupção ou desvio de finalidade na administração de uma Câmara de Vereadores.
Logicamente que a população também pode e deve exercer a fiscalização de quaisquer um dos Poderes, porém, muitas vezes é barrada pelos Gestores Públicos e não conseguem tomar conhecimento dos atos irregulares para promover denúncia aos órgãos competentes de controle.
E é neste sentido que este trabalho visa analisar a fragilidade da proteção jurídica a esses agentes públicos (cargos de confiança e servidores efetivos), evidenciando a falha normativa e constitucional no tratamento da questão.
Busca assim, este trabalho, trazer essa questão para o campo da discussão pública quanto a necessidade de alteração legislativa constitucional, para ficar assegurada certas garantias para que estes agentes públicos possam denunciar as irregularidades administrativas, respaldados por normas jurídicas eficazes, sem que sofram represálias de qualquer natureza.
Pois inúmeros são os casos de perseguições a pessoas que fazem denúncias de irregularidades administrativas e até mesmo de atos de corrupção, e em muitas vezes os denunciantes são alvos de crimes contra sua honra ou até mesmo contra suas vidas ou de seus parentes, e muitas dessas ameaças são feitas de forma velada para calar os denunciantes.
Mas para isso acontecer deve ser promovida uma evolução legislativa, nas leis orgânicas municipais e até mesmo na Constituição Estadual ou na Constituição Federal, de modo a resguardar o interesse público e os princípios republicanos.
1. A VULNERABILIDADE DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO
Os cargos em comissão são providos por nomeação direta da autoridade competente e se destinam ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF).
Na prática, todavia, tais servidores vivem sob constante ameaça de exoneração caso se oponham a práticas irregulares ou ousem denunciá-las. A confiança exigida, em vez de se voltar ao interesse público e à moralidade administrativa, transforma-se em lealdade pessoal ao nomeante, criando um paradoxo: justamente quem ocupa posições estratégicas de gestão é quem tem menos proteção para atuar em defesa da legalidade.
2. A INSUFICIÊNCIA DA ESTABILIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS
Ainda que os servidores efetivos contem com a estabilidade constitucional (art. 41 da CF), isso não os torna imunes às represálias quando denunciam falhas ou irregularidades administrativas.
Nesses casos, a perseguição ocorre por meios indiretos, tais como:
o chamado “congelamento” funcional, com remoção para funções irrelevantes;
a exclusão de equipes estratégicas ou limitação de acesso a informações;
a protelação em conceder direitos ou o bloqueio da progressão na carreira.
Essas práticas tornam a estabilidade esvaziada, pois o servidor é forçado ao silêncio sob pena de isolamento, estagnação ou desgaste profissional.
3. OUTRAS FORMAS DE PERSEGUIÇÃO VELADA
Além da exoneração sumária dos comissionados ou do congelamento funcional dos efetivos, há outras práticas recorrentes de retaliação:
1-servidores concursados ou não, são colocados no “banco”, sem tarefas relevantes, como punição silenciosa;
2-outros recebem sobrecarga desproporcional de atribuições, em comparação aos colegas;
3-transferências de setor;
4-alteração irregular de suas atribuições funcionais estabelecidas por lei;
há ainda a prática de desqualificação pública, por meio de termos pejorativos ou comentários depreciativos perante os demais membros da repartição ou perante a sociedade.
Tais condutas, além de violarem a dignidade da pessoa, comprometem a saúde mental do servidor e criam um ambiente institucional hostil, que funciona como instrumento de coerção e desestímulo à denúncia de irregularidades.
4. A NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E CONSTITUCIONAL
A proteção aos denunciantes de irregularidades — prática consolidada em outros países sob o instituto do whistleblowing — ainda é incipiente no Brasil. Apesar de alguns avanços, o ordenamento jurídico permanece fragmentado e insuficiente.
No plano normativo, destaca-se a Lei nº 13.608/2018, que prevê a possibilidade de denúncias anônimas e estabelece mecanismos de preservação da identidade do informante, e o Decreto nº 10.153/2019, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, mecanismos para assegurar o sigilo e a pseudonimização de denunciantes.
Tais diplomas, entretanto, não configuram um sistema abrangente de proteção, atuando de maneira pontual e restrita.
Mas houve também tentativas legislativas no passado, como o PL nº 362/2015, de autoria do Senador Ricardo Ferraço, que buscava instituir garantias e incentivos a trabalhadores que denunciassem irregularidades.
Este projeto estabelecia em se art. 5ª, a obrigatoriedade de seu cumprimento pela União Estados, Distrito Federal, os Municípios e pessoas jurídicas de direito privado:
Art. 5º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as pessoas jurídicas de direito privado deverão criar, no prazo de 6 (seis) meses da entrada em vigor desta Lei, órgãos internos independentes para o recebimento e a apuração de denúncias ou, neste último caso, quando não tiver atribuição, para o encaminhamento das informações ao órgão competente.
Contudo, o projeto foi retirado de pauta em abril de 2016 pelo próprio autor, evidenciando a falta de continuidade da agenda parlamentar sobre o tema.
Mais recentemente, tramita o PL nº 4805/2020, que altera a Lei nº 9.807/1999 (Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas), o Código de Processo Civil e a Lei nº 8.112/1990, criando a medida excepcional de reserva de identidade das testemunhas. Embora seja um passo relevante, o projeto sofre de uma limitação estrutural: dirige-se apenas aos servidores públicos civis da União, deixando à margem servidores estaduais e municipais, igualmente vulneráveis a retaliações.
Porém, em vez de tratar a questão em uma lei de alcance nacional, aplicável a todos os entes da federação, o PL 4805/2020 cria um regime parcial e restritivo, que não enfrenta a realidade de forma integral e sistêmica.
Dessa forma, a alteração legislativa necessária deve ir além da esfera federal, alcançando Estados, Distrito Federal e Municípios, com vistas não apenas à proteção do denunciante, mas também ao fortalecimento do combate à corrupção em todas as esferas da Administração Pública.
Assim, uma lei de proteção a denunciantes (whistleblowers) deve ter caráter nacional, assegurando a qualquer servidor público, em qualquer ente federativo, a possibilidade de denunciar ilegalidades sem temor de perseguição, inclusive com a vedação da exoneração arbitrária em face da denúncia realizada com provas incontestáveis, mesmo em se tratando de cargos em comissão.
4.1. BOA-FÉ, CONFIABILIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS NO WHISTLEBLOWING (d DENÚNCIA)
A efetividade de um sistema de whistleblowing depende de três pilares fundamentais: a boa-fé do denunciante, a confiabilidade institucional do canal de denúncia e a proteção adequada dos dados pessoais.
A boa-fé assegura que a denúncia não seja instrumento de vingança ou perseguição, preservando a credibilidade do instituto. A confiabilidade exige órgãos independentes e mecanismos institucionais que garantam imparcialidade na apuração.
Por fim, a proteção de dados pessoais, em consonância com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), é indispensável para resguardar a identidade do denunciante, por meio de técnicas de pseudonimização e sigilo reforçado, sob pena de esvaziar-se a função social da denúncia.
Por tais motivos a temática do whistleblowing não pode ser vista apenas como uma questão de denúncia, mas também como um sistema de confiança, que envolve:
Boa-fé:
O instituto deve ser assegurado pela boa-fé do denunciante, para evitar o uso abusivo do mecanismo como instrumento de perseguição política ou pessoal.
Denúncias falsas ou de má-fé precisam ser responsabilizadas, sob pena de desvirtuamento da finalidade do whistleblowing.
Confiabilidade do sistema:
O servidor só se sentirá encorajado a denunciar se houver confiança no sistema de apuração.
Isso significa órgãos independentes para recebimento das denúncias, evitando que caiam nas mãos dos mesmos superiores hierárquicos envolvidos nos fatos.
Sem esse pilar de confiança, o silêncio continuará prevalecendo.
Proteção de dados:
As informações relativas ao denunciante devem ser protegidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), assegurando que sua identidade só seja revelada em casos absolutamente necessários e dentro de um devido processo legal.
É fundamental adotar a técnica da pseudonimização prevista na LGPD, já incorporada em parte pelo Decreto nº 10.153/2019, mas que precisa ser expandida para todo o serviço público em âmbito nacional.
5. O PL 4525/2021 E A NECESSIDADE DE INCLUIR O WHISTLEBLOWING (DENÚNCIA) NO SISTEMA DE IMPROBIDADE
O Projeto de Lei nº 4525/2021, de autoria do Senador Paulo Paim, busca alterar o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), já modificada pela Lei nº 14.230/2021, para incluir expressamente o assédio moral como ato de improbidade administrativa.
A proposta representa um avanço, pois reconhece que submeter subordinados a situações humilhantes ou degradantes viola os princípios da Administração Pública, ampliando os mecanismos de responsabilização de autoridades públicas. Mais do que proteger a dignidade funcional do servidor, a tipificação do assédio moral como improbidade também reforça o combate à corrupção, já que tais práticas abusivas são frequentemente utilizadas como forma de silenciar servidores que se recusam a participar de condutas ilícitas ou que ousam denunciar irregularidades.
No entanto, o projeto ainda revela uma limitação estrutural: preocupa-se com a punição do agente público assediador, mas não contempla mecanismos protetivos voltados ao denunciante (whistleblower – DENUNCIANTE).
Assim ao ignorar o risco de exoneração, perseguição funcional ou congelamento na carreira daqueles que se opõem às práticas ilícitas, a proposta não fecha o ciclo necessário para assegurar a integridade administrativa.
Assim, sugere-se que o PL 4525/2021 seja ampliado para incluir dispositivos que proíbam expressamente a retaliação contra denunciantes e que considerem atos de perseguição, exclusão funcional, sobrecarga desproporcional de tarefas ou desqualificação pública como formas de improbidade administrativa.
Dessa forma, o Brasil avançaria não apenas na repressão ao assédio, mas também na criação de uma cultura de proteção efetiva ao denunciante, alinhando-se às melhores práticas internacionais de integridade pública.
5.1. WHISTLEBLOWING E A GARANTIA LEGAL DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA SERVIDORES SEM ESTABILIDADE
Um dos maiores desafios na consolidação de um sistema de whistleblowing eficaz no Brasil é a ausência de garantias específicas para os servidores que não possuem estabilidade, em especial os ocupantes de cargos em comissão ou funções temporárias.
Esses agentes, justamente por se encontrarem em posições estratégicas e de confiança, muitas vezes têm conhecimento direto de práticas ilegais ou imorais na Administração Pública. No entanto, a precariedade do vínculo funcional — marcado pela possibilidade de exoneração ad nutum — transforma-se em um instrumento de coerção silenciosa, impedindo que denúncias cheguem ao conhecimento dos órgãos de controle ou da sociedade.
Por isso, é imprescindível que a legislação sobre whistleblowing estabeleça regras claras de garantia da permanência no cargo para aqueles que denunciarem, de boa-fé, condutas ilícitas, desde que respaldados em provas inequívocas ou elementos mínimos de verossimilhança. Essa garantia não deve ser vista como um privilégio, mas como instrumento de proteção ao interesse público, permitindo que a verdade seja revelada sem que o denunciante tema pela perda imediata de seu emprego.
Nesse sentido, propõe-se que a lei assegure:
1-a proibição da exoneração ou rescisão do vínculo funcional enquanto a denúncia legítima estiver sob apuração;
2-a nulidade de qualquer ato de exoneração ou remoção praticado como represália direta ou indireta à denúncia;
3-a reintegração imediata em caso de comprovação de exoneração retaliatória;
4-a possibilidade de responsabilização administrativa, civil e penal da autoridade que determinar a retaliação.
Ao criar tais garantias, o legislador transforma o servidor denunciante em aliado da sociedade, fortalecendo a transparência, a integridade e o combate à corrupção, e rompe com a lógica autocrática de silenciamento que ainda predomina em muitas esferas da Administração Pública.
Esse aspecto é fundamental, porque no Brasil a maior fragilidade está justamente nos servidores sem estabilidade (cargos em comissão e temporários). Eles são os mais expostos ao risco de exoneração ou perseguição e, por isso, acabam se calando diante de irregularidades, reforçando a ideia de que não basta punir o assédio ou a corrupção — é preciso blindar quem denuncia.
5.2. SUGESTÃO DE MODELO DE ARTIGO DE LEI PARA PROTEÇÃO DO DENUNCIANTE
Para superar a lacuna legislativa, propõe-se a seguinte redação, que pode servir de base tanto para uma lei ordinária municipal quanto para ser inserida em uma Lei Orgânica dos Municípios ou para futura lei nacional:
Art.XXX. Nenhum servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão, poderá sofrer exoneração, remoção compulsória, congelamento funcional, sobrecarga desproporcional de atribuições, desqualificação pública ou qualquer outra forma de retaliação por haver denunciado, de boa-fé, a prática de irregularidades administrativas, atos de corrupção, assédio moral ou sexual no âmbito da Administração Pública.
§ 1º A denúncia formulada de boa-fé assegura ao denunciante;
a) a proibição da exoneração ou rescisão do vínculo funcional quanto ao cargo, efetivo, em comissão ou temporário, enquanto a denúncia legítima estiver sob apuração judicial ou administrativa;
b) a proteção de sua identidade e a preservação de seus direitos funcionais, sendo vedada qualquer prática de perseguição velada ou explícita.
§ 2º Constitui falta grave do agente público superior hierárquico ou dirigente, sujeita a responsabilização administrativa, civil e penal, a adoção de medidas de represália contra servidor denunciante.
§ 3º Lei específica disporá sobre os mecanismos de recebimento, proteção de dados e apuração das denúncias, garantindo imparcialidade, contraditório e ampla defesa.
6. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO A DENUNCIANTES (WHISTLEBLOWERS – DENUNCIANTE)
O debate sobre a proteção aos denunciantes não é exclusivo do Brasil. Diversos países já implementaram legislações específicas para assegurar que servidores públicos e trabalhadores do setor privado possam revelar irregularidades sem sofrer retaliações.
Nos Estados Unidos, um dos primeiros países a adotar medidas nessa área, a Whistleblower Protection Act (WPA), de 1989, posteriormente ampliada, estabeleceu garantias robustas para os funcionários federais que denunciam desperdício de recursos, fraudes, abusos de autoridade ou riscos à saúde e à segurança pública. A lei proíbe expressamente retaliações contra denunciantes e prevê sanções severas para gestores que pratiquem represálias. O órgão responsável por garantir sua efetividade é o Office of Special Counsel (OSC), encarregado de investigar e coibir práticas pessoais proibidas, incluindo assédio contra denunciantes.
Na África do Sul, a Lei de Divulgação Protegida (PDA), de 2000, reforçada em 2017, tornou-se um marco na proteção dos denunciantes, estabelecendo um sistema abrangente de salvaguardas. Outros países africanos, como Gana (Lei 720, de 2006), Uganda, Quênia e Ruanda, também implementaram legislações específicas, demonstrando que a preocupação com o tema ultrapassa fronteiras econômicas ou culturais.
Na Ásia, a Coreia do Sul e a Índia destacam-se como exemplos de países que, atentos às peculiaridades de seus sistemas políticos e culturais, criaram leis próprias de proteção. A Índia, em especial, promulgou em 2011 a Lei de Proteção de Denunciantes, posteriormente atualizada para ampliar a efetividade das salvaguardas.
No contexto anglo-saxão, tanto o Canadá quanto a Austrália estabeleceram legislações que vinculam o whistleblowing diretamente ao código de conduta dos servidores públicos. No Canadá, a Public Servants Disclosure Protection Act (PSDP) de 2005 consolidou a prática, enquanto a Austrália, inspirada em experiências canadenses e britânicas, aprovou em 2009 a legislação que reforçou a proteção.
Na América Latina, países como a Argentina e até mesmo a Bósnia e Herzegovina, na Europa, avançaram ao estender as garantias não apenas ao setor público, mas também ao setor privado, ampliando o alcance das denúncias e criando uma cultura de integridade em diferentes esferas da sociedade.
Esse panorama comparado evidencia que o Brasil permanece atrasado na institucionalização de um sistema efetivo de proteção aos denunciantes. Enquanto outras nações já tratam o whistleblowing como um instrumento central no combate à corrupção e na defesa da integridade pública, o ordenamento jurídico brasileiro ainda se limita a normas fragmentadas, voltadas mais para a denúncia em abstrato do que para a efetiva salvaguarda de quem denuncia.
Assim, observa-se que a experiência internacional confirma a necessidade de o Brasil evoluir legislativamente, tanto para proteger servidores sem estabilidade quanto para garantir que o combate à corrupção seja fortalecido em todos os entes da federação.
Denota-se assim o enorme contraste com a realidade brasileira, demonstrando o quanto estamos atrasados.
7. A PERSPECTIVA DA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL
A Transparência Internacional – Brasil enfatiza que não existe combate à corrupção eficaz sem proteção aos denunciantes. A experiência nacional e internacional demonstra que muitas irregularidades só são descobertas e investigadas graças à coragem de indivíduos que se dispõem a denunciar práticas ilegais e antiéticas. No entanto, esses cidadãos, quando não contam com respaldo legal e institucional, ficam vulneráveis a perseguições, demissões, retaliações, ameaças e até à violência física.
Segundo a entidade, o Brasil, embora signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ainda apresenta lacunas significativas: apenas alguns estados (Espírito Santo e Paraná) possuem medidas mínimas de proteção, e a maior parte das Assembleias Legislativas sequer disponibiliza canais de denúncia anônima.
Segundo a Transparência Internacional – Brasil, O Barômetro Global da Corrupção revela que somente 23% dos brasileiros acreditam que podem denunciar corrupção com segurança, enquanto 73% temem represálias.
A organização recomenda que governos, empresas e instituições públicas adotem sistemas internos eficazes de denúncia, com canais seguros, possibilidade de anonimato, normas claras de proteção e incentivos à denúncia. Para tanto, desenvolveu o guia Internal Whistleblowing Systems: Best Practice Principles for Public and Private Organisations, que oferece parâmetros de governança aplicáveis tanto ao setor público quanto privado.
Portanto, a partir da ótica da Transparência Internacional, o whistleblowing deve ser compreendido como uma política pública estruturante, indispensável para prevenir e punir práticas corruptas, reforçando a integridade democrática e garantindo que o interesse coletivo prevaleça sobre interesses individuais ou corporativos.
8. O BRASIL COMO SIGNATÁRIO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO
Devemos lembra que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC), tratado internacional adotado em 2003 e em vigor no país desde 2006.
A Convenção, composta por 71 artigos divididos em oito capítulos, estabelece diretrizes abrangentes que incluem: prevenção à corrupção, penalização, recuperação de ativos e cooperação internacional.
No que concerne ao whistleblowing, a UNCAC orienta que os Estados Partes adotem medidas legislativas e administrativas para estimular a denúncia de atos de corrupção, protegendo o denunciante contra retaliações injustas. Isso significa que o Brasil, ao ratificar a Convenção, assumiu o compromisso de criar mecanismos de proteção efetivos aos denunciantes, tanto no setor público quanto privado, ampliando a integridade administrativa e fortalecendo o Estado Democrático de Direito.
Contudo, apesar desse compromisso internacional, ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma lei geral de proteção ao denunciante, o que representa uma grave lacuna frente às obrigações assumidas perante a comunidade internacional.
Assim, ao mesmo tempo em que a UNCAC exige avanços em transparência, participação social e responsabilização, o Brasil permanece com uma proteção fragmentada e insuficiente para aqueles que denunciam práticas corruptas tenham a proteção do Estado.
Portanto, a inclusão de normas claras sobre whistleblowing no âmbito nacional não é apenas uma demanda social e política interna, mas também uma exigência do direito internacional, que vincula o país à construção de uma cultura de integridade pública.
Conclusão
A ausência de mecanismos jurídicos de proteção a servidores que denunciam irregularidades — sejam eles comissionados ou efetivos — configura uma forma de autocracia administrativa, em que a palavra do chefe prevalece sobre o interesse público.
Diante do exposto, urge que a Constituição e a legislação infraconstitucional avancem na criação de instrumentos eficazes de blindagem jurídica ao denunciante, garantindo que a verdade não seja punida com exoneração, perseguição velada ou congelamento funcional. Mais do que isso, a evolução normativa deve ter abrangência nacional, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de consolidar uma cultura institucional de integridade e reforçar o combate à corrupção em todos os níveis da Federação.
Ressalta-se finalmente que proteger legalmente quem denuncia é proteger não apenas o indivíduo, mas o patrimônio moral e democrático do Estado brasileiro.
Nota metodológica usada pelo autor
O presente artigo é de caráter opinativo e original, elaborado a partir da interpretação do autor com base na sua experiência administrativa e em normas constitucionais e legais aplicáveis, bem como em noções gerais da doutrina de Direito Administrativo, sem utilização de cópias de outros textos.
Referências
Doutrina
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 36. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2022.
Legislação e Projetos de Lei
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre improbidade administrativa.
BRASIL. Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Estabelece normas para a proteção de vítimas e testemunhas.
BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre alienação parental.
BRASIL. Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Altera a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).
BRASIL. Projeto de Lei nº 362, de 2015. Dispõe sobre proteção a denunciantes de boa-fé. (Retirado de pauta em 05/04/2016).
BRASIL. Projeto de Lei nº 4.525, de 2021. Altera o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 para incluir o assédio moral como ato de improbidade administrativa.
BRASIL. Projeto de Lei nº 4805, de 2020. Altera a Lei nº 9.807/1999, a Lei nº 13.105/2015 e a Lei nº 8.112/1990, para criar a medida excepcional de reserva da identidade das testemunhas.
Organismos Internacionais e Relatórios
TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL – BRASIL. Não há combate à corrupção sem proteção para quem denuncia. Brasília: TI-Brasil, 23 de junho de 2023. Disponível em: .
UNITED STATES. Whistleblower Protection Act (1989). Washington, D.C.
CANADÁ. Public Servants Disclosure Protection Act (2005). Ottawa.
ÁFRICA DO SUL. Protected Disclosure Act (2000, reforçada em 2017). Pretoria.
ÍNDIA. Whistleblower Protection Act (2011). Nova Deli.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Mérida, México, 2003. Ratificada pelo Brasil em 2006. Disponível em: https://www.unodc.org/unodc/pt/corruption/convention.html