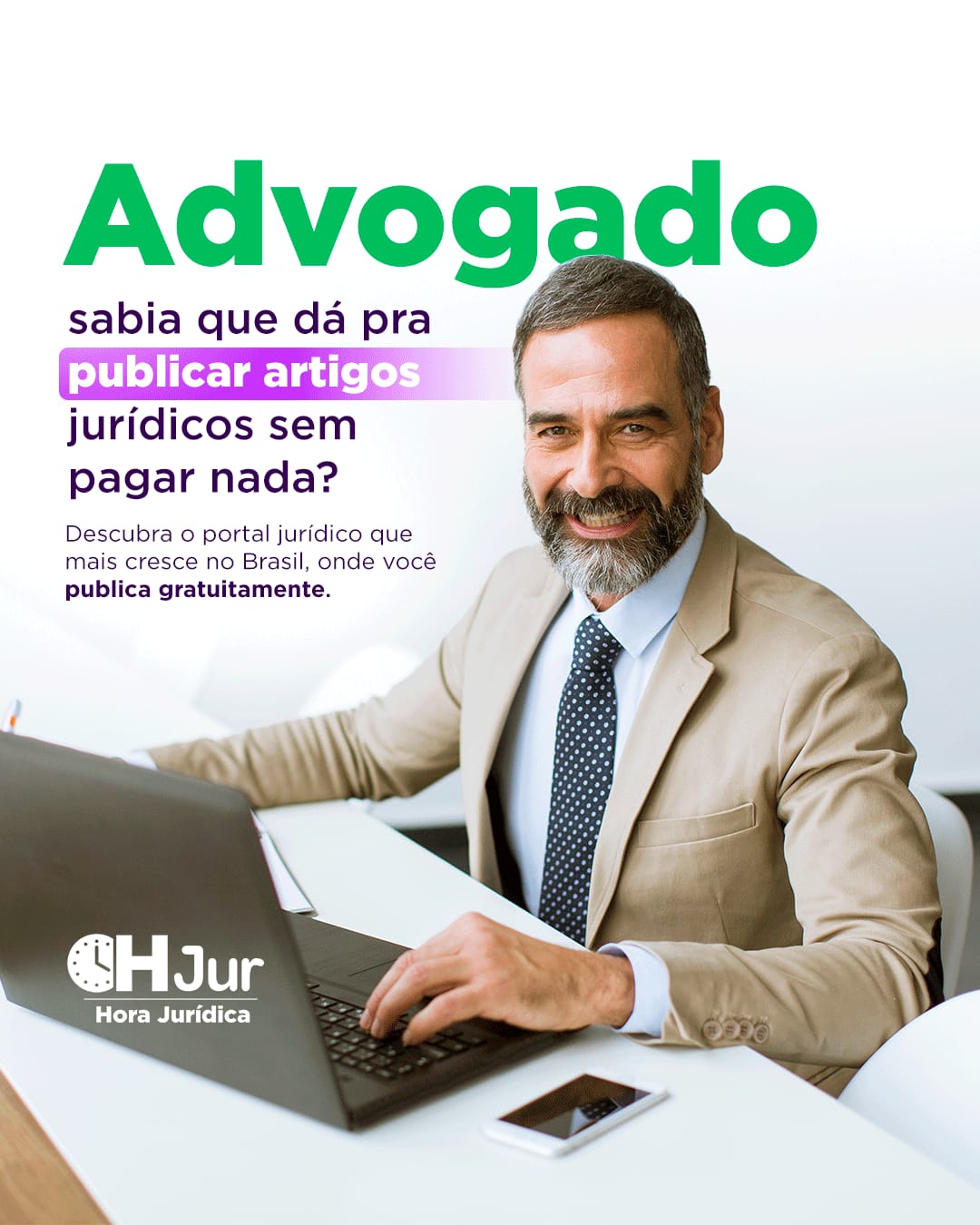O julgamento do Recurso Especial 2.124.423 – SP oportuniza uma reflexão pragmática sobre os limites da responsabilidade civil das instituições financeiras decorrentes de fraudes cometidas com o uso de suas infraestruturas.
Conforme consta dos autos, um golpista abriu conta corrente no Banco C6, em princípio de forma regular, e aplicou o que é conhecido como “golpe do falso leilão”. A vítima depositou valores na conta do golpista, convencida de que estaria negociando com um leiloeiro legítimo.
A vítima propôs ação indenizatória contra o banco, buscando ver-se ressarcida dos danos sofridos. Conforme consta da ementa do julgado, “O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista.” O STJ decidiu, por maioria de votos, que no caso concreto não se configurou a obrigação de indenizar, pois o fato ocorrido se constitui em fortuito externo, o que não atrairia a incidência da súmula 479 daquela corte: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Fortuito externo é o evento imprevisível e inevitável que escapa totalmente da esfera de controle do agente, rompendo o nexo causal e afastando sua responsabilidade.
Fortuito interno é o risco inerente à própria atividade exercida pelo agente, previsível dentro do seu campo de atuação, de modo que não exclui sua responsabilidade. A decisão não foi unânime. Dois ministros do STJ votaram pela responsabilização do banco.
O voto vencido, amparado na teoria do risco da atividade, sustentou que a solução mais justa seria aquela que socializa os prejuízos, distribuindo o risco da fraude entre todos os participantes do sistema bancário, em vez de recair integralmente sobre a vítima, que estava em posição de vulnerabilidade e não tinha meios eficazes de evitar o golpe.
Como os bancos se beneficiam economicamente da facilidade na abertura e operação de contas digitais, seria razoável que também assumissem os ônus decorrentes do uso indevido dessa infraestrutura. A responsabilização da instituição financeira seria então uma forma de redistribuir os impactos das fraudes de maneira mais equilibrada, evitando que indivíduos isolados arquem sozinhos com prejuízos que derivam de riscos sistêmicos da atividade bancária.
A leitura atenta do julgado leva à impressão de que ambas as posições – vencedora e vencida – seriam legítimas. Tal divergência, no entanto, demonstra que a matriz teórica da teoria do risco não é suficiente para pacificar o entendimento sobre o tema.
A Análise Econômica do Direito – AED – possibilita uma outra perspectiva sobre o tema, ainda que – e isso não se ignora – não sirva para aplacar de todo o calor em torno do debate.
A AED é uma matriz teórica que busca avaliar as normas jurídicas (lato sensu, aí incluídas as decisões judiciais) com base em sua eficiência econômica, analisando como os incentivos criados pelas regras afetam o comportamento dos agentes e a alocação de recursos na sociedade.
O Teorema de Coase, proposto em O Problema do Custo Social, texto seminal da AED escrito por Ronald Coase, demonstra que a atribuição da responsabilidade não deve ser feita apenas com base em quem se beneficia da atividade, mas sim em quem pode evitar o dano ao menor custo.
A partir desta premissa, é razoável pensar que o custo de monitoramento em tempo real de todas as transações para prevenir fraudes futuras poderia gerar:
• Maior burocracia na abertura de contas, dificultando a inclusão financeira;
• Atrasos e dificuldades excessivas em transferências bancárias, prejudicando não apenas potenciais vítimas de golpes, mas todos os correntistas que dependem da rapidez nas operações financeiras.
• Custos adicionais para a conformidade deste monitoramento às regras de proteção de dados.
• Dificuldade para pequenos empresários e profissionais autônomos, que poderiam sofrer com bloqueios preventivos arbitrários.
Enquanto a abordagem baseada na teoria do risco leva a uma discussão acerca da justiça no caso concreto (é justo que o banco arque com o prejuízo, afinal é ele que lucra com a sua atividade, e é injusto que a vítima assuma sozinha o prejuízo), a abordagem baseada na racionalidade econômica mira a concretização da justiça para a coletividade, pois considera os incentivos gerados pelas normas jurídicas para todos os demais atores de uma sociedade.
Admitir a responsabilização neste caso seria equivalente a admiti-la para outras entidades em situações análogas: a companhia telefônica por golpes praticados com números de telefone criados para este fim. O Banco Central, criador do PIX. E a indústria automobilística pelos acidentes automotivos.
Conclui-se, então, que a decisão do STJ, ainda que por outros fundamentos, acaba por refletir uma abordagem pragmática, considerando os impactos sistêmicos da responsabilização dos bancos. Embora a teoria do risco possa justificar a transferência do prejuízo para a instituição financeira, é preciso ponderar os efeitos práticos dessa escolha. O reconhecimento da responsabilidade bancária em hipóteses como a aqui em exame poderia levar a maior burocracia, restrição ao crédito e custos repassados aos próprios consumidores, sem necessariamente reduzir a ocorrência de fraudes.
A solução, que enseja até um outro texto, passa por uma maior conscientização acerca do risco de negócios online, e na sofisticação do trabalho investigativo policial, a fim de reduzir os incentivos para a prática de ilícitos desta natureza.
Márcio dos Santos Vieira é mestre em Direito, especialista em Processo Civil e LLM em Direito dos Negócios.
*Os textos das análises, colunas e artigos são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do Hjur.