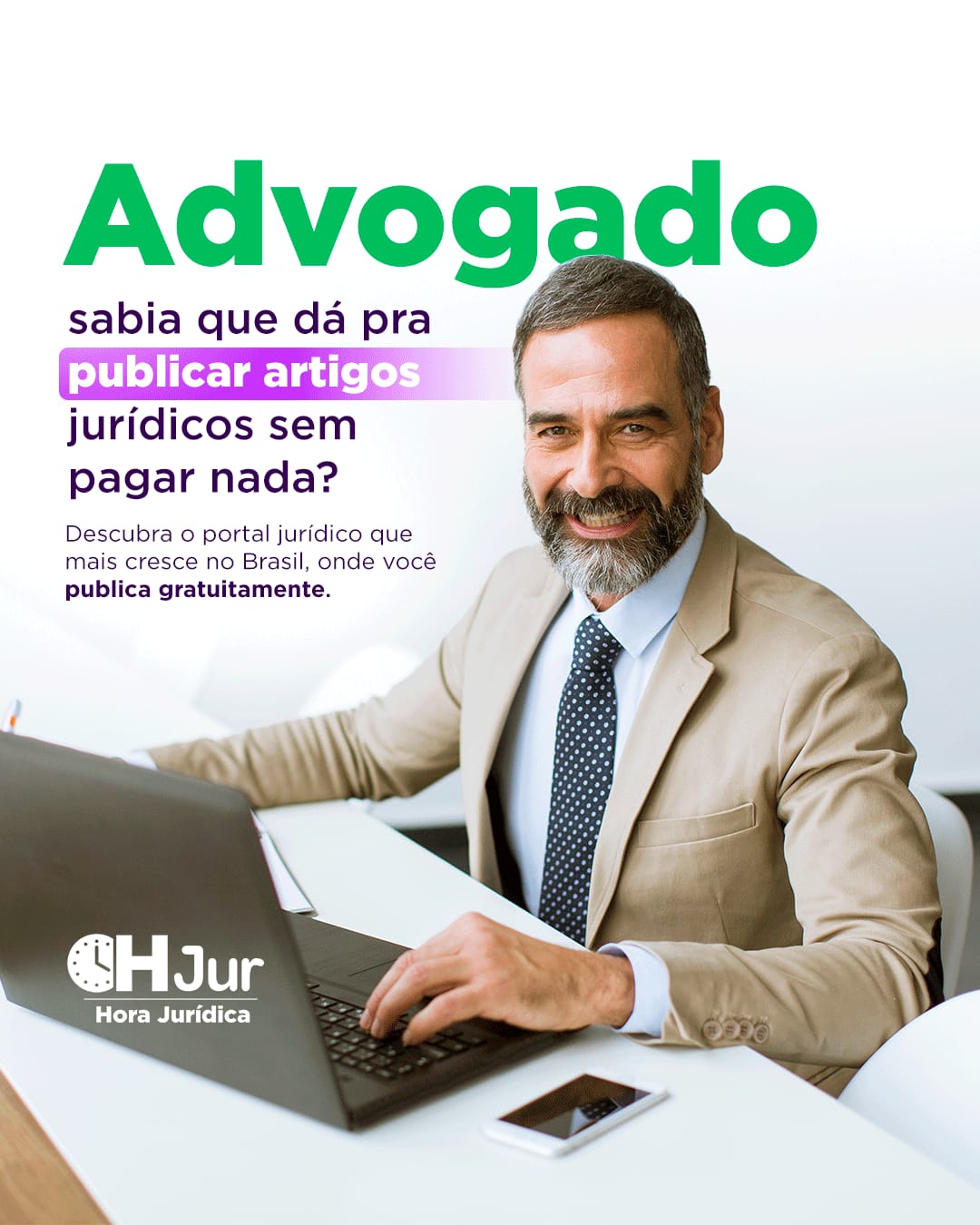Por Jeffis Carvalho
Da Aurora do Homem à Missão Júpiter, 2001, Uma Odisseia no Espaço – é a odisséia do homem, da sua inteligência, da sua linguagem, da sua evolução. Mas que evolução? A biológica implicaria em outro enredo; a cultural é que salta aos nossos olhos diante da tela. E o convite que Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke nos fazem, a meu ver, é: vejam e sintam; depois pensem; e viajem em como fomos capazes de evoluir, de nos tornarmos algo mais do que animais irracionais – ainda que hoje testemunhemos uma era de irracionalidade. O filme é uma ode ao potencial humano de realização, e ele mesmo um exemplo de como a Arte é o mais elevado instrumento para representar isso tudo.
A ferramenta
Em 1778, Benjamin Franklin chamou o homem de “animal fabricante de ferramentas”. Esse é o mote principal de 2001 – e como ele cala fundo na minha alma por meio de uma viagem sensorial única. As imagens e a montagem dessas imagens penetram em nossas retinas e nos fazem sentir, desfrutar, antes de pensar… E a partir disso nos levam a conclusões também únicas, porque pessoais, filtradas por nossas subjetividades – o que aqui implica na história de vida de cada um, com nossos conhecimentos e emoções.
A ferramenta é a grande tradução dessa evolução: nos tornamos humanos – iluminados pela centelha da inteligência – quando descobrimos a ferramenta. E a tornamos também um instrumento da descoberta. O animal fabricante de ferramentas descobre na primeira parte do filme o osso como instrumento – de poder, de destruição desde logo, selando para sempre a nossa condição humana. A descoberta se dá após o humano-macaco tocar o monolito negro que surge a sua frente. O que é o monolito? Uma representação gráfica – clean, lisa, negra, retilínea – da própria inteligência, nada mais do que isso. E ao bater um osso sobre outros ossos, este primata descobre a força de um instrumento – e como lembrava Marshall McLuhan nos também anos 1960 da produção do filme – o osso como uma extensão do seu corpo, de sua mão. Com ele, a mão se torna mais forte, mais poderosa – uma ferramenta de descoberta e, claro, de dominação. E é essa extensão que vai conduzir todo o filme.
A passagem da primeira parte do filme para a segunda se dá por um corte. Mas que corte! Com certeza o mais célebre corte da história do cinema. Porque aqui o gênio de Kubrick fez da linguagem do cinema – ela própria uma extensão do nosso corpo, de nossos sentidos – o instrumento para sintetizar o salto evolutivo da humanidade na descoberta de instrumentos para descobertas. Do osso para a nave no espaço: quatro milhões de anos de história em um único corte.
A seqüência que se abre, então, ao som da valsa Danúbio Azul de Johann Strauss Jr., é um balé imagético/sensorial onde o conceito da ferramenta se apresenta com a beleza cinematográfica. O osso que é arremessado ao céu; o corte para a nave no espaço – e aqui a valsa em sua concepção terciária de compassos se presta à marcação do movimento, com tudo girando: o corte para dentro da nave onde vemos um microcosmo do espaço representado pela falta de gravidade e a caneta do cientista adormecido na poltrona tornando-se a nave em órbita. É única essa beleza de síntese da ferramenta: a mais trivial extensão de nosso corpo, de nossa mão, a caneta é o instrumento da escrita – a representação gráfica da linguagem verbal – e ela nos chega pelo poder sensorial da montagem imagem/música/movimento.
Na estação espacial, temos, finalmente e depois de quase meia hora, o primeiro diálogo do filme – algo hoje impensável, já que quanto mais os filmes aceleram as imagens e as seqüências, mais verborragia é despejada nas telas do cinema. Em 2001, Kubrick propõe uma experiência não-verbal e o texto surge quando ele próprio é também uma extensão de nosso corpo – a linguagem verbal é também uma ferramenta e como tal a utilizamos, na vida e no filme. Isso fica claro no instante em que o primeiro diálogo se dá pela mediação de mais um instrumento: a comunicação videotelefônica entre o pai e sua filha. Uma ferramenta verbal mediada pela ferramenta tecnológica. Porque, afinal, tudo é sempre extensão de nossos corpos, de nossos sentidos.
Nessa segunda parte, surge então o monolito encravado na Lua. Sua imobilidade negra e retilínea permanece a mesma de quatro milhões de anos. Mas agora ele emite um sinal de rádio. Uma comunicação. O próprio monolito torna-se a ferramenta das ferramentas – ganha “vida” porque se comunica. Ganha “vida” porque se assume como ferramenta, como instrumento, como linguagem.
Um letreiro introduz a terceira parte do filme: Missão Júpiter – 18 meses depois. Na nave Discovery vemos um homem que caminha em um corredor que é giratório. A música de Aram Khachaturian entra em nossos ouvidos de forma melancólica – mas é também uma poderosa música que representa em si toda a beleza que a manipulação de sons permite: a música, como a Arte, é um instrumento de linguagem – e por conseqüência uma extensão de nossos sentidos, de nossas emoções, de nossas ferramentas. E eis que surge a mais avançada de todas as ferramentas: o computador da série HAL 9000. Ele é a extensão das extensões, porque estende o cérebro, a mente humana. E o que vemos a seguir não é um conflito homem X máquina. É um conflito de ferramentas – a missão é uma extensão do desejo de descoberta; HAL é uma extensão de nossa capacidade de processar informações. Ele é uma ferramenta incapaz de mentir e quando lhe é segredado algo que deve esconder da tripulação, gera-se em sua “alma” o mais terrível dos conflitos: um componente neurótico. Ele é uma máquina tomada por um conflito meramente humano. O resultado é que se volta contra os humanos. E quando o comandante Bowman o desliga, é como se toda e qualquer ferramenta de que dispomos fosse sendo desligada. A morte de HAL é um pouco a morte de cada passo que demos – das cavernas ao portal estelar. E aqui é inevitável lembrarmos de Nietzsche: HAL falha porque é, no fundo, humano. Demasiadamente humano.
O portal estelar abre a quarta e última parte do filme. É o encontro de Bowman com o destino de sua missão. E diante de si abre-se um portal, quem sabe para outra dimensão. E aqui o filme que já era Arte, vale-se da arte abstrata para retratar o abstrato: a quintessência da forma como a última possibilidade de representar o que não pode ser representado. E as referências até a última seqüência serão puramente artísticas: o portal, o olho que tudo quer ver e quase não consegue se manter aberto; o ambiente iluminista de século XVIII que são os aposentos onde Bowman chega e a abstração total do quarto monolito que surge. E nele, a máxima das ferramentas, a câmera mergulha para trazer um bebê-estrela vagando pelo espaço. O que é isso? O que é? Talvez, a extensão de nosso corpo vá além da ferramenta da descoberta. Descobre-se, ela própria, a extensão de todo um planeta, de todo um mundo, de todo um Universo…
Podemos ver 2001 nas plataformas de streaming, como Apple TV. Ainda que este seja realmente um filme para se ver no cinema, na dimensão da tela grande e da sala escura.