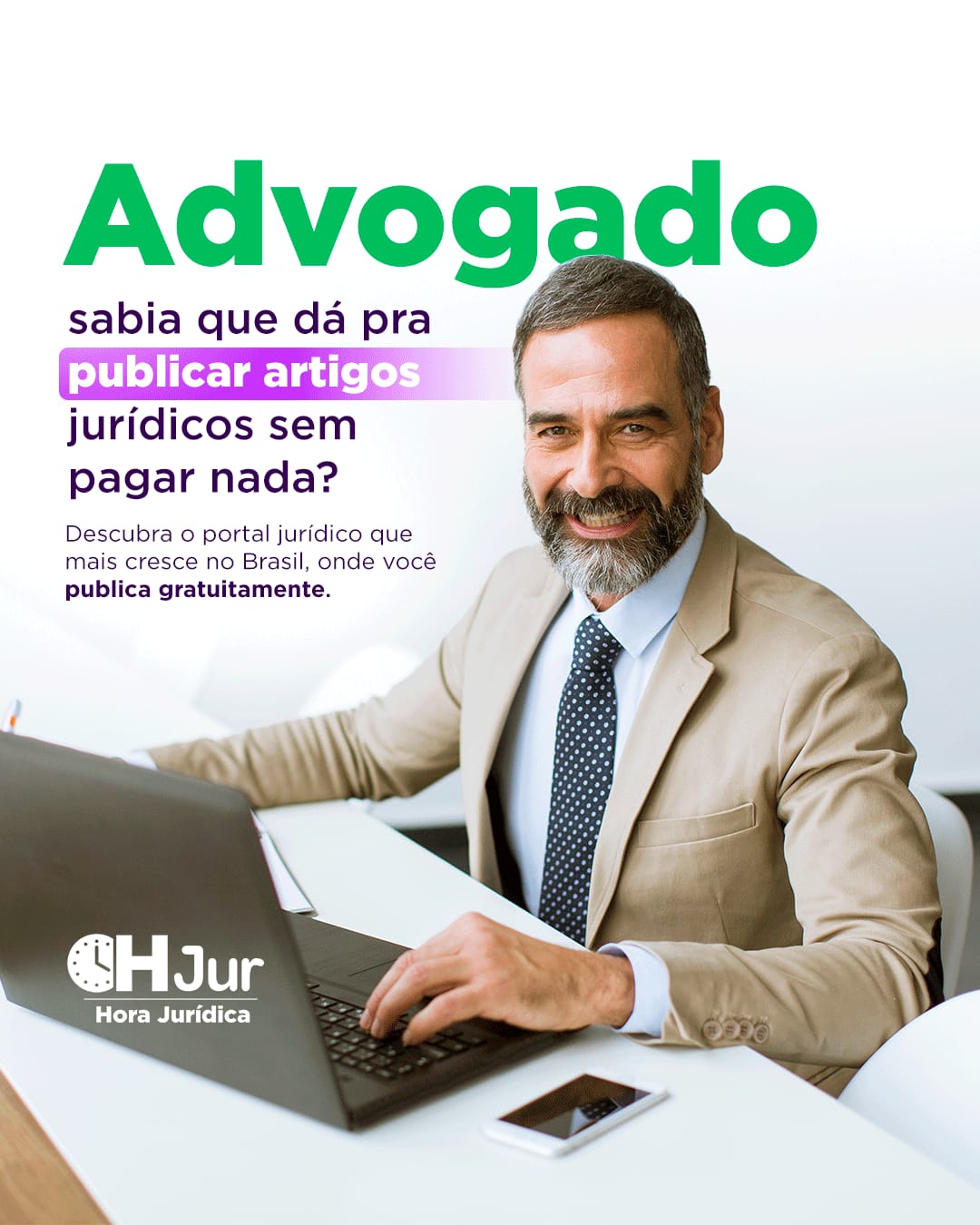Para quem acaba de completar 15 anos e começa como office boy em seu primeiro emprego, o mundo parece me desafiar, oferecendo possibilidades de descobertas à mancheia. Tenho pela frente os melhores anos da minha vida e desejo mesmo abraçar o mundo, que poderá me dar muito, mas desde já percebo que me cobrará na mesma dimensão.
Estamos em 1974. Este jornalista que agora escreve pensa em voltar ao estudo do piano que abandonou quatro anos antes. Estou em uma família em que se ouve música clássica desde sempre, com duas tias pianistas e uma avó que tocou com o irmão, nos anos 1920, na pequena orquestra que acompanhava, ao vivo, a exibição de filmes mudos no cinema do interior paulista. Mais de cinquenta anos depois, a música clássica, território familiar e seguro, passa a dividir espaço com algo novo, selvagem, provocativo: o rock.
É numa tarde de sábado que o meu destino musical toma uma direção irreversível. No porão úmido da casa de um colega recém-conhecido no curso noturno do ginásio, entre o cheiro de mofo e a penumbra que filtra a luz solar, acontece a epifania. O ritual é simples: um LP retirado cuidadosamente de seu envelope, o disco posicionado no prato do aparelho Gradiente, a agulha que encontra o sulco inicial.
O que emerge dos alto-falantes é um terremoto sonoro. Uma sonoridade brutal, densa, que atordoa quem ainda carrega na memória auditiva a delicadeza matinal das Baladas de Chopin. A capa do disco — fundo negro cortado pelo amarelo intenso da figura de um vocalista em êxtase diante do microfone, braços erguidos como quem invoca forças primordiais — anuncia: Black Sabbath Vol. 4.
É o choque entre dois mundos que se encontram no mesmo coração. O garoto que pela manhã navega pelas paisagens sonoras do romantismo europeu descobre, naquela tarde paulistana, que a música pode também ser fúria, peso, confronto. Que entre Os Prelúdios, poema sinfônico de Liszt, e o Sabbath há não um abismo, mas uma ponte — tensa, improvável, mas absolutamente transitável.
Corta.
Na fria e úmida Birmingham dos anos 1950, algo mais que o aço escorre por entre as ruas de Aston; um inquieto menino de olhos arregalados por sonhos e terrores assombra as calçadas cheias de fuligem. John Michael Osbourne, ainda Ozzy apenas em casa, aprende cedo as lições da penúria e da esperança, moldadas pelo som dos martelos e o cheiro de cerveja nos pubs. Ninguém poderia prever que aquele garoto franzino, encurvado sob o peso da timidez e da dislexia, vai encontrar a redenção – e a danação – nos palcos do mundo.
O destino de Ozzy parece traçado para a obscuridade. Trabalha em abatedouros, é presidiário ocasional, experimenta os becos do fracasso. Mas é com Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward — três outros “desajustados” magnéticos — que Ozzy funda o Black Sabbath em 1968, banda que vai se tornar um dos sismógrafos mais sensíveis das angústias do século XX. Juntos, eles dão forma ao heavy metal, uma tempestade de guitarras graves, letras soturnas e uma voz que mistura desespero e êxtase.
No palco, Ozzy é possuído por algo indomável. A cada apresentação, parece exorcizar seus próprios demônios, engolindo a plateia com sua energia errática, ora alucinatória, ora encantadora. O álbum de estreia do Black Sabbath, lançado em 1970, é um documento quase arqueológico de uma era, e “Paranoid”, do mesmo ano, — com seus acordes condenados e refrão hipnótico — ecoa até hoje nos porões e estádios do mundo todo.
Corta.
Ozzy Osborne morreu no último dia 22, aos 76 anos. Quando vejo a notícia de sua morte mergulho na parede da memória e dela emerge aquele porão, o toca-discos e a sua figura recortada em amarelo sobre o fundo negro. Num rápido flashback ouço guitarra de Wheels of Confusion que abre o Vol.4 e que logo se mistura aos acordes dos Rolling Stones, do Led Zeppelin, do The Clash…
Com Ozzy eu descobri o rock. Estamos em 1974. Um ano que marca não apenas uma descoberta musical, mas o início de uma jornada onde o clássico e o pesado vão aprender a conviver e ainda abrir espaço para a força da MPB – cada um revelando facetas distintas da mesma inquietação humana diante do belo e do sublime. E, por que não, da sombra. Tudo, afinal, se resume ao primeiro verso que ouvi pela voz de Ozzy Osborne, “há muito tempo eu vaguei pela minha mente” (Long ago I wandered thru my mind).